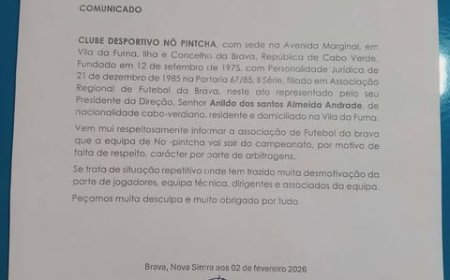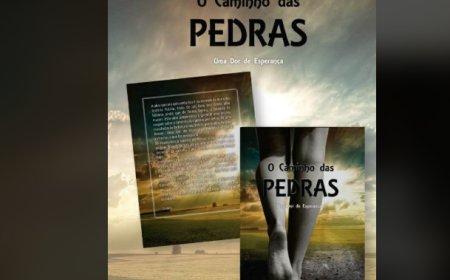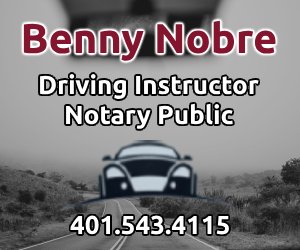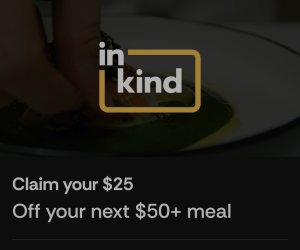A Política Externa de Trump: Uma Mescla de Ideais Imperiais, Interesses Desenfreados e Legitimação da Força Bruta
O recente discurso de Trump no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, revelou o seu desejo de desenvolver a Islândia com o mesmo ardor com que os recém-chegados Peregrinos e os seus descendentes imediatos imaginaram domar o que consideravam o território selvagem norte-americano, muito antes de um jornalista americano ter uma epifania e perceber repentinamente que o seu povo havia sido escolhido pela providência divina para disseminar o capitalismo democrático de costa a costa no continente norte-americano. O jornalista norte-americano, John O'Sullivan, articulou a sua revelação em 1845 no que ficou conhecido desde então como o Destino Manifesto, provavelmente sem prever que os Estados Unidos o usariam para ultrapassar as suas fronteiras continentais e espalhar a sua versão de civilização a nível mundial; e, claro está, nesse processo promover os interesses norte-americanos, que se revelaram semelhantes tanto em natureza como no seu alcance aos do Império Britânico, do qual os Estados Unidos haviam se libertado apenas sete décadas antes.

No seu discurso em Davos, Donald Trump repetidamente e de forma desdenhosa chamou a Groenlândia de "pedaço de gelo", como se fosse um lugar esquecido por Deus que a providência divina o tivesse agora incumbido de transformar num território útil para a manutenção da segurança mundial. O fato de ele se referir apenas geograficamente a esse "pedaço gigante de gelo" — que ele “duvida se merece ser chamada terra” — ao falar da Groenlândia, ignorando completamente a sua antiga população indígena e o seu status moderno como parte semiautônoma do Reino da Dinamarca, deveria soar o alarme de que ele provavelmente vê a Groenlândia como um espaço ideal para o empreendimento civilizador da sua versão do Destino Manifesto. A inegavel realidade histórica de que a epifania de Trump está separada daquela de John O'Sullivan por quase duzentos anos não parece influenciar o zelo ideológico de Trump. A única diferença essencial entre o projeto civilizacional dos primeiros norte-americanos e o de Trump reside talvez no interesse dos primeiros em desenvolver a agricultura e no interesse do segundo – embora não confessado – em extrair minerais de terras raras dos gigantescos depósitos da Groenlândia, o que concederia aos EUA uma vantagem comparativa em relação ao atual domínio chinês sobre esses recursos, tão cruciais para as novas tecnologias e a energia renovável.
Quando John O'Sullivan escreveu um ensaio posicionando-se em contra da interferência europeia visando frustrar a expansão dos EUA para o oeste e argumentando sobre a necessidade de anexar o Texas, que havia se tornado independente do México recentemente, os Estados Unidos já haviam se expandido muito além da área geográfica das treze colônias originais e estavam prestes a se expandir para o oeste do rio Mississippi. Os EUA também haviam implementado a infame Lei de Remoção Indígena, a qual forçou a remoção de Indios norte-americanos das suas férteis terras ancestrais no sudeste do país para que pudessem ser usadas para o desenvolvimento da agricultura que benificiaria os descendentes dos europeus. Portanto, John O'Sullivan não foi o mentor original da expansão para o oeste. Com o seu ensaio, que não o impediu de morrer anos depois na obscuridade, ele estava apenas articulando e justificando um processo histórico que já estava em pleno andamento. Os peregrinos já acreditavam que Deus guiava a sua jornada e sancionava o seu assentamento no novo mundo, considerando a nova terra um lugar escolhido para estabelecer uma comunidade sagrada, justa e autogovernada. O'Sullivan, portanto, não estava postulando algo totalmente sem fundamento, e não está sozinho em articular as razões para e justificar os empreendimentos humanos que historicamente os precederam. Há alguns meses, tive a minha própria espécie de epifania ao perceber, de repente, que figuras históricas se veem repetidamente articulando ideias que, na verdade, refletem ações humanas do passado. Tomemos como exemplo o conceito de genocídio, cunhado apenas em 1944 para descrever a tentativa turca, durante a Primeira Guerra Mundial, de exterminar os armênios. Isso aconteceu, no entanto, muito depois de um genocídio ainda maior já ter sido perpetrado, o qual exterminou cerca de vinte milhões de indígenas norte-americanos. E não importa se esse registro histórico não é oficialmente declarado um genocídio. Outro caso que ressalta é a definição de terrorismo. As pessoas que utilizam a definição moderna do terrorismo frequentemente ignoram, ou simplesmente desconhecem, que ações cuja natureza, infelizmente, as qualifica como terroristas têm sido praticadas ao longo da história da humanidade desde os tempos antigos, não apenas por indivíduos fanáticos ou grupos marginais, mas, surpreendentemente, por agentes estatais. Muito antes de Nicolau Maquiavel escrever O Príncipe, as relações internacionais e inclusivamente politicas internas já eram frequentemente caracterizadas por comportamentos implacáveis, através dos quais líderes políticos e Estados demonstravam claramente a sua crença subjacente de que os fins justificam os meios; e quando analisamos tais comportamentos hoje, não podemos deixar de chamá-los de maquiavélicos.
Quando John O’Sullivan se queixou, no seu ensaio, da interferência europeia na expansão continental norte-americana, ele ecoou as preocupações de outra doutrina política americana: a Doutrina Monroe. Anunciada pelo presidente James Monroe em 1823, “ela afirmou que o Hemisfério Ocidental estava fora dos limites para novas colonizações europeias e que qualquer intervenção seria vista como um ato hostil contra os EUA”, segundo a Wikipédia. Ao manter a Europa afastada do hemisfério ocidental, a Doutrina Monroe criou espaço para as manobras expansionistas ditadas pelo Destino Manifesto. Essas duas doutrinas americanas são, portanto, complementares e intimamente interligadas. Para dizer a verdade, Trump não se declarou ainda um agente do Destino Manifesto, mas adotou publicamente a Doutrina Monroe, tendo inclusive nomeado, sem qualquer pudor, sua própria versão como “Doutrina Donroe”. E ele vem tentando nnormalizar a sua aplicação no mundo atual com a operação na Venezuela para capturar um presidente em exercício de um país latino-americano e com ameaças de ações militares dentro dos territórios nacionais do México e da Colômbia para combater os cartéis de drogas. Se alguém duvidasse, no entanto, que a sua política externa também é inspirada pelo Destino Manifesto, o seu discurso em Davos pode ter dissipado essas dúvidas. Está se tornando gradualmente claro que o seu governo utiliza essa ideologia para promover aquisição territorial e implementar uma assertiva política externa nacionalista. Ele expressou interesse em adquirir a Groenlândia, sugeriu tornar o Canadá o "51º estado" dos EUA e mencionou a possibilidade de "retomar" o Canal do Panamá. Recentemente, publicou online mapas do Canadá, da Groenlândia e da Venezuela com a bandeira americana, aparentemente numa demonstração da sua estratégia de normalizar a sua agenda imperialistaperante a opinião pública.
Para levar adiante essa agenda, Trump também adotou um instrumento de política externa que se acreditava estar relegado ao passado: a “gunboat diplomacy”, algo assim como a diplomacia das canhoneiras. Essa “diplomacia” é uma estratégia de política externa empregada no passado pelo Império Britânico e, posteriormente, pelos Estados Unidos, que utilizava demonstrações ostensivas de poder naval para intimidar, influenciar ou coagir outra nação a conceder concessões específicas. Ela recorre à ameaça da força militar em vez do seu uso imediato, o que permitte a alguns teóricos políticos considerá-la uma alternativa à guerra. A Doutrina Monroe e a diplomacia das canhoneiras estão intrinsecamente ligadas. A Doutrina Monroe é o fundamento ideológico do controle e da expansão americana no Hemisfério Ocidental, enquanto a diplomacia das canhoneiras forneceu o mecanismo prático para a imposição da hegemonia dos EUA.
Embora a Doutrina Monroe tivesse dclarado que as Américas estavam fora do alcance da re-olonização europeia, a diplomacia das canhoneiras fornecia a coerção naval usada para impor essa política, frequentemente protegendo os interesses econômicos dos EUA e impedindo a interferência europeia ao apontar armas para potenciais intervencionistas.
Como se vê, a diplomacia das canhoneiras também foi restaurada pelo governo Trump, tendo sido num caso específico sido recalibrado de ameaça de guerra a ação militar propriamente dita. Estamos falando, é claro, da incursão na Venezuela, tendo Nicolás Maduro sobrevivido para se arrepender da sua desobediência à ordem de Trump para renunciar, supostamente em troca de um exílio confortável na Turquia. A evidente ameaça de navios de guerra americanos posicionados no Caribe é considerada uma manifestação da diplomacia das canhoneiras, que muitas vezes se tornou letal com a explosão de embarcações suspeitas de transportar drogas. Tais atos de agressão são considerados um aviso a alguns países vizinhos da América Latina sobre as intenções dos Estados Unidos, que mais uma vez se comportam como uma força policial internacional. A recente armada naval reunida no Golfo Pérsico pelos Estados Unidos também é percebida por observadores internacionais como um exemplo da diplomacia das canhoneiras tentando obter concessões do Irã e até mesmo forçar uma mudança de regime naquele país do Oriente Médio. Aqui, tão longe da esfera de influência dos EUA, a diplomacia das canhoneiras poderia ser vista como o mecanismo prático de imposição do Destino Manifesto.
O Destino Manifesto, no passado, disfarçou empreendimentos imperialistas descarados com um idealismo elevado. Foi usado como pretexto para a Guerra Hispano-Americana de 1898. Os dois motivos declarados para os Estados Unidos entrarem em guerra contra a Espanha, contudo, não resistem a uma análise histórica rigorosa. Vejamos o primeiro motivo, que poderia ser justificado pelos ideais do Destino Manifesto: as preocupações humanitárias relativas aos terríveis maus-tratos infligidos pela Espanha ao povo cubano durante o período colonial. Tal sentimento nobre é, no entanto, contradito pela cruel desumanidade do genocídio dos Indios norte-americanos e por aquela que foi possivelmente a forma mais degradante de escravidão – baseada no racismo – conhecida pela humanidade, contra os afro-americanos. Ambas as atrocidades em massa estavam sendo perpetradas pelos EUA ao mesmo tempo em que o país questionava as políticas coloniais espanholas em Cuba. Como resultado da Guerra Hispano-Americana, Cuba tornou-se um protetorado dos EUA em vez de conquistar a verdadeira independência. Após a guerra, os EUA também tomaram posse do restante do império espanhol em declínio. Quanto ao segundo motivo — a sabotagem espanhola do encouraçado Maine, que causou uma explosão no porto de Havana, Cuba, e matou 266 tripulantes norte-americanos — não havia a menor prova de que a explosão do navio tivesse sido causada por qualquer ato de sabotagem. Em 1976, analistas forenses norte-americanos determinariam que a explosão foi provavelmente causada por um incêndio acidental inicial que provocou a ignição da enorme quantidade de munição que o navio carregava. Eles descartaram a hipótese de sabotagem. Imagine, no entanto, a dificuldade em tentar dissuadir o povo americano, indignado como estava sob o efeito da propaganda de seu governo, de apoiar uma ação militar contra a Espanha. Este é o tipo de histeria colectiva que ideologias psicologicamente tão poderosas como o Destino Manifesto podem despertar no seio do povo.
Outro problema que pode surgir com crenças culturais psicologicamente poderosas como o Destino Manifesto, é sua suscetibilidade a promover a glorificação do líder que conduz as políticas nelas inspiradas. Se um líder acredita seriamente no mandato de Deus para que seu povo espalhe a sua versão de civilização sobre outros povos, o que o impede de começar a se ver como o líder ungido para cumprir o mandato divino? Pois como ele poderia estar na posição de liderança de um processo histórico tão transcendental e predestinado, senão pela própria providência divina? Tal ideia pode ser especialmente tentadora para um líder já predisposto à auto-idolatria, como no caso de Trump. Talvez Trump já se sentisse o líder ungido quando anunciou solenemente que não se submeterá ao direito internacional em política externa, guiando-se unicamente pela sua própria moralidade. Essa declaração surpreendente seria menos assustadora se a gente acreditasse no seu criterio moral, supremamente sólido, na qualidade do homem mais poderoso do mundo, com o dedo no botão nuclear. No entanto, os seus comportamentos públicos no passado não são as melhores garantias de uma bússola moral tão afinada quanto a que seria necessária para que ele se baseasse exclusivamente na sua própria moralidade para conduzir os assuntos internacionais.
Um dos aspectos mais perturbadores da política externa de Trump e da sua equipe é a aparente facilidade com que recorrem a interesses nacionais descarados e à crença de que a força faz o direito, sempre que ideais nobres não conseguem justificar adequadamente uma determinada ação externa. Para grande surpresa de muitos observadores políticos, logo após a captura de Maduro, o governo Trump anunciou o seu apoio à chavista de longa data Delcy Rodríguez, ex-vicepresidente de Maduro, deixando de lado a líder da oposição, María Corina Machado, e Edmundo González, amplamente considerado o vencedor da última eleição presidencial venezuelana. Logo a surpresa começou a se dissipar quando funcionários do governo Trump explicaram a natureza transacional desse acordo de poder, que garantiria uma transição ordenada governo para permitir que os norte-americanos assumissem o controle dos vastos recursos petrolíferos da Venezuela. E quando essa proposta pareceu uma política colonial, o chefe de gabinete adjunto da Casa Branca para assuntos políticos teve a audácia de ir à televisão ao vivo para dissipar quaisquer dúvidas de que o seu governo estava, na prática, governando a Venezuela. Sem qualquer hesitação, ele justificou o bloqueio da Venezuela por uma formidável armada estadunidense como a garantia do controle total sobre o petróleo do país, incluindo a sua comercialização no mercado mundial. Numa declaração chocante dos direitos hegemônicos irrestritos dos EUA em virtude do seu poderio militar avassalador, ele defendeu o direito dos Estados Unidos de governar a Venezuela num mundo que ele considera regido pela força, pelo poder e pela coerção. Segundo ele, essas são as “leis de ferro da história” desde o princípio dos tempos.
Esta é uma visão circular do desenvolvimento histórico (nem mesmo falar do progresso, pois a circularidade do tempo exclui logicamente o progresso), o que torna impossível qualquer progresso civilizacional, incluindo o nascimento e o desenvolvimento da ordem mundial liberal-democrática, ou o surgimento e a afirmção de valores internacionais como o respeito à soberania nacional e aos direitos humanos individuais. Eu ntes pensava que a circularidade do tempo se manifestava apenas em romances de realismo mágico. Miller também — e talvez inadvertidamente — parece justificar com as suas leis históricas de ferro regimes da história recente que glorificaram a força, o poder e a potência acima de tudo: a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista. Apesar de toda a sua arrogância e arbitrariedade, esse argumento é comprovadamente idiota, o que não o impede, no entanto, de ser extremamente perigoso.
Na verdade, as “leis de ferro” da história de Stephen Miller têm algumas implicações lógicas inquietantes:
1. A humanidade está condenada ao determinismo histórico no que diz respeito ao comportamento das nações, o que impede a ação humana consciente de navegar adequadamnete os caminhos do desenvolvimento histórico e trabalhar na construção de um mundo melhor e mais pacífico. Tal argumento determinista foi refutado pela própria ordem mundial liberal-democrática que o seu governo ora tenta minar e que, apesar das suas limitações, inconsistências e falhas, terá evitado uma Terceira Guerra Mundial e uma conflagração nuclear.
2. A era dos impérios ainda não acabou, e a soberania nacional é um conceito bastante relativo em comparação com a primazia do governo pela força como princípio legítimo das relações internacionais.
3. O sistema de relações internacionais baseado em regras é uma anomalia histórica insensata e desprezível que precisa ser corrigida e não reflete o fato de termos demonstrado a nossa capacidade de aprender com a história, o que nos levou a estabelecer um sistema destinado evitar a repetição das catástrofes do “século das guerras”, como o século XX é às vezes correctamente descrito. Afinal, deve haver uma razão, poderíamos argumentar, para que estruturas jurídicas como a Carta das Nações Unidas não existissem na Idade da Pedra.
Estamos, portanto, assistindo ao espetáculo trumpiano do desmantelamento da ordem mundial vigente e as suas tentativas de refazer a história para adequá-la à perspectiva de antigos ideais imperiais ou para reconfigurar a ordem internacional de acordo com os interesses nacionais dos Estados Unidos, usando o seu poderio militar colossal para garantir o bom funcionamento de uma nova ordem mundial emergente, que ainda não está claramente definida. Num mundo com crescente tendência à integração multipolar e às alianças entre potências médias e ainda traumatizado pelas catástrofes do século XX, traumas esses que levaram ao estabelecimento da ordem mundial liberal-democrática, tais empreendimentos certamente causarão dissidência generalizada, resistência, tensão e, em última instância, potenciais confrontos perigosos. Então, o presidente Trump e sua equipe de política externa aprenderão como é difícil reverter o curso da história.
Henrique Silva