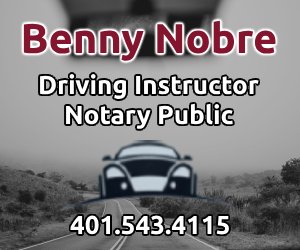A adaptação foi dura. Longe da proteção da mãe, descobri que a selva de betão tinha regras próprias. A principal era sobre a comida. Tínhamos três refeições diárias, sim, mas a lei era clara: quem chega primeiro, serve-se melhor.
Aprendi isso da pior maneira. No refeitório, o prato habitual era o famoso "arroz malandro". No menu dizia que era de peixe, mas devia ser um peixe campeão de esconde-esconde, porque no prato ninguém o via.
Era preciso ter fé.
Se eu piscava os olhos para fazer o sinal da cruz antes de comer, quando abria, a única isca de atum que boiava no caldo já tinha voado para o prato do colega do Tarrafal. Ali, aprendi que cada grão de arroz conta e que o peixe era um mito urbano.
Veio o Natal e, com ele, o regresso à Brava. O paraíso! Comida de verdade, o cheiro do mar, o carinho da família. Mas as férias acabam e, em janeiro, o regresso à Praia fez-me chorar. Mas desta vez, eu ia preparado. Jurei a mim mesmo: "Fome? Nunca mais!"
A minha bagagem parecia a de um refugiado de guerra, mas de guerra gourmet. Levei tudo: latas de camoca (o ouro em pó), bolos secos, sacos de bolacha... um verdadeiro arsenal. E, claro, o meu piano, porque um homem não vive só de pão, também precisa de arte (e de impressionar as meninas, claro).
A viagem no navio Sotavento foi a odisseia habitual. Aquele barco não navegava, ele pedia licença ao mar, lento como uma tartaruga com reumatismo. Deitado no convés, olhava as estrelas, filósofo, a pensar no meu futuro académico. O meu momento zen era interrompido apenas pelo coro das senhoras foguenses ao lado, que a cada balanço do navio gritavam num tom de ópera trágica:
— "Aiiiii nha má! Aiiiii nha pá!" — seguido de uma "golfada" que desafiava a gravidade. Poesia pura em alto mar.
Chegado à Praia, fiquei uns dias na casa da tia Amélia. Na segunda-feira, dia de ir para o Lar, fiz as contas. Eu tinha: uma mochila gigante nas costas, uma bolsa de mão pesada, a bolsa sagrada da comida (lata de camoca incluída) e o piano.
Olhei para o táxi: 100 escudos.
Olhei para o autocarro: 20 escudos.
A minha mente de contabilista falido fez o cálculo rápido: "Se for de autocarro, poupo 80 escudos. 80 escudos são 4 dias de lanche com pão e doce na porta do liceu."
A "txipesa" venceu a lógica.
Esperei o autocarro. Quando ele parou, já vinha a abarrotar. Entrei, e foi aí que a minha presença se fez notar. Não pelo piano, mas pelo cheiro. A lata de camoca não estava bem vedada. O aroma inconfundível de milho torrado e açúcar espalhou-se pelo ar condicionado natural das janelas abertas.
As pessoas começaram a farejar.
— "Kuse ki sta txera sima funji?" — perguntou uma senhora senegalesa.
Eu, encolhido, fingi que era perfume francês.
O motorista, já sem paciência para o meu "tetris" de malas no corredor, ordenou:
— "Menino, bota essas cargas lá fora, na bagageira lateral!"
Obedeci. Coloquei o meu precioso piano e a bolsa vital da camoca na barriga do autocarro. Fiquei com a mochila nas costas e a outra bolsa na mão. A viagem seguiu até à paragem da Escola Técnica. Era a minha descida. O autocarro parou, uma multidão saiu. Eu desci, ajeitei a mochila, respirei fundo e virei-me para ir buscar as coisas à bagageira.
Mas o motorista devia estar com pressa para almoçar. Ouviu o sinal.
Tssssss. Portas fechadas.
E depois... ZUSSS!
Arrancou.
O meu piano. A minha camoca. A minha vida.
Tudo a desaparecer numa nuvem de fumo preto.
Não pensei. Foi instinto de sobrevivência misturado com desespero.
A mochila pesada saltava-me nas costas, batendo na nuca a cada passada. A bolsa de mão balançava como um pêndulo assassino.
Corri.
Corri como um louco. Corri como um cão atrás de uma moto. Corri como se o próprio diabo me quisesse roubar o lanche.
A cena deve ter sido linda para quem estava no passeio. Um garoto magrinho, carregado como um burro de carga, a sprintar pela Achada Santo António, gritando para um autocarro:
— "Ei! Para! O meu piano! A minha camocaaaaaa!"
O suor escorria-me pela testa, a mochila parecia pesar uma tonelada, mas a visão de ficar sem comida por um trimestre deu-me superpoderes.
Felizmente, 300 metros à frente, junto à Capelinha, o autocarro parou para largar passageiros. Cheguei lá quase a cuspir o pulmão, vermelho como um tomate, a arfar. O motorista olhou-me pelo retrovisor, sem a mínima emoção, enquanto eu, trémulo, resgatava os meus bens.
Recuperei tudo. O piano estava intacto. A camoca estava salva.
Mas ali, sentado no passeio a tentar recuperar o fôlego, aprendi uma lição valiosa de economia: por causa da "txipesa" de querer poupar 80 escudos, gastei 300 escudos de sola de sapato, perdi 2 litros de suor e passei uma vergonha que, se houvesse YouTube na altura, hoje eu seria um meme mundial.
Afinal, o barato saiu caro... e cansativo!