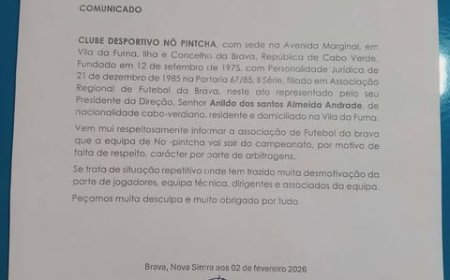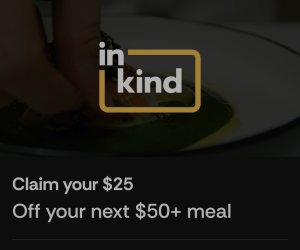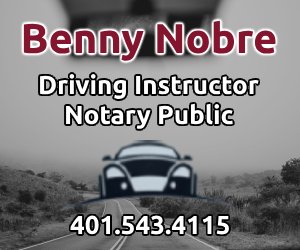Entre as nuvens da Brava, Cova do Touro nasce na vanguarda do aguardente da ilha
Mencionámos Césaria Évora, a voz da sodade, a nostalgia que permeia estas ilhas, que o filósofo da Négritude, Leopold Sédar Senghor, chamou de “uma grinalda de felicidade misturada com a doçura do Domingo”, mas que talvez sejam mais parecidas com “dez grãos espalhados por Deus no meio do mar”. É ao som das notas pungentes das canções de Césaria que chegamos à segunda etapa da nossa viagem, a menor das ilhas habitadas do arquipélago, a eternamente enevoada ilha da Brava.

Chegar lá não é fácil. É preciso voar até ao Fogo, um sublime cone de lava com paisagens lunares onde as pessoas vivem e cultivam vinhas na caldeira do Pico do Fogo, um vulcão ativo. De lá, duas horas de barco por entre cardumes de golfinhos e peixes-voadores levam-nos ao pequeno porto da Furna. Vista do mar, esta rocha com 5.000 habitantes parece envolta num chapéu de nuvens permanentes. Ao chegar a Nova Sintra, a principal cidade no coração da ilha, coberta por uma névoa quase metafísica, tem-se a sensação de estar num lugar fora do tempo e do espaço.
A história da Brava é-nos contada por Daniel Miranda, conhecido como o Touro, cujos músculos tensos e sorriso largo lhe dão um ar de estrela de rock. Sentados à mesa para provar totoco, um prato típico local, ficamos a saber que a Brava é a ilha mais verde, mais fresca e mais chuvosa do arquipélago, razão pela qual ele escolheu cultivar cana-de-açúcar aqui. Mas a chuva, obviamente, não é por si só fonte de riqueza e a Brava foi gradualmente despovoada ao longo do século XX. Gerações de jovens emigraram para os Estados Unidos, ajudados por contactos com tripulações de baleeiros. A indústria baleeira é também responsável pelo nome que os bravenses dão à aguardente de cana.
“Quando, no início do século XX, navios ingleses e sobretudo americanos começaram a passar pela Brava nas suas rotas”, explica Daniel, “os marinheiros invadiam os bares e pediam whisky, especialmente blended whisky de uma marca específica – J&B.”
Desde então, numa dessas incríveis voltas da linguagem, J&B passou a significar qualquer bebida espirituosa. Pronunciado à maneira local como djabì, acabou por designar o rum agrícola produzido na ilha.
Histórias fascinantes, histórias tristes de despedidas e regressos sonhados encontram-se nas letras da morna, a música da Brava, cantada por Césaria Évora. Ouvi-la ao vivo é o auge da melancolia, mas ajuda a compreender o substrato cultural de um lugar onde conquistadores portugueses, fugitivos de piratas franceses e baleeiros da Nova Inglaterra se cruzaram durante séculos, todos unidos por um elemento comum:
“A aguardente era um estimulante para o trabalho, um néctar nas festas, um remédio para qualquer doença.”
Daniel é o maior proprietário de terras da Brava, mas também compra cana-de-açúcar a outros produtores. A sua destilaria chama-se Cava do Touro – o touro, claro está, sendo o próprio Daniel – e foi construída numa colina envolta pelas nuvens, as melhores amigas da agricultura.
Tudo começou quando Daniel era estudante na Praia e regressou para visitar a família, convivendo com produtores de djabì e aprendendo com eles. Técnico farmacêutico com interesse pela química, apaixonou-se pela agricultura e pela destilação.
“Inicialmente o djabì era produzido apenas na costa, na Baía Tantum, porque se utilizava água do mar para arrefecer os alambiques”, recorda.
Eram tempos difíceis – sem estradas pavimentadas, as pessoas transportavam a aguardente em bidões de 20 litros à cabeça. Há 25 anos, a produção começou a ser feita de forma mais organizada – chamá-la “industrial” seria exagerado. O processo começa com a cana-de-açúcar, novamente branca e preta. A cana branca tem um grau Brix de 16-17 e Daniel usa-a apenas para licores. A cana preta atinge 20, é a mais expressiva e é cultivada em mais de 40 hectares. As duas variedades são moídas e destiladas separadamente, mas ambas são colhidas durante cinco meses por ano, de janeiro a maio.
A moagem é feita num engenho a diesel fabricado no Brasil e o caldo é transferido para as cubas de fermentação através de um sistema elétrico. É aí que ocorre a segunda etapa, novamente com leveduras naturais e fermentação entre 6 e 12 dias. Uma temperatura de 20°C é suficiente para iniciar a fermentação, mas os quatro tanques de 4.000 litros – três mais estão a caminho – também podem ser aquecidos eletricamente se o clima estiver demasiado frio.
Na Cava do Touro existem duas salas de destilação com dois alambiques portugueses de cobre de 600 litros, produzindo 120 litros de djabì cada, com um rendimento de cerca de 20%.
Um dos principais problemas da destilação é a disponibilidade de água para arrefecimento. Daniel construiu um depósito de 50 toneladas que recolhe água da chuva e se volta a encher depois de usada para arrefecer a serpentina. A propósito, um detalhe curioso: uma janela de vidro permite ver a serpentina submersa na água.
“Fiz isso para as crianças das escolas! Quando vêm visitar, é bom que possam ver com os próprios olhos como funciona o alambique”, sorri Daniel.
Se as “cabeças” são cortadas aos tradicionais 3-4%, a definição do teor alcoólico do djabì à saída do alambique é bastante singular. “21 grados cubierto”, lança Daniel, para espanto geral. É necessária uma explicação adicional: “Na Brava é praticamente impossível encontrar um alcoómetro tradicional, todos usam a escala Cartier.” A situação complica-se: introduzida em 1771, a escala Cartier mede a densidade de um líquido alcoólico a 10 graus Réaumur – uma escala octogesimal em que zero é o ponto de fusão e 80 o ponto de ebulição da água. “21 grados cubierto” significa que o djabì deve ter pelo menos 22 graus Cartier, ou 48% de álcool por volume (ABV) na escala Gay-Lussac.
Cada destilação é diferente, por isso, após um período de repouso, a aguardente passa por uma fase de loteamento para garantir maior consistência.
A última etapa é o envelhecimento, que Daniel só recentemente começou a explorar com resultados interessantes. Atrás da destilaria, entre a vegetação, uma adega abriga vários barris ex-Madeira que ele encheu com o seu djabì.
O resultado é extremamente interessante, pois a madeira parece suavizar a força natural da bebida, definitivamente mais robusta e direta do que o grogue. A produção atinge 10.000 litros por ano, 90% dos quais são exportados para os Estados Unidos.
Os engarrafamentos personalizados merecem uma menção à parte. Disponíveis por encomenda na destilaria, pertencem a uma categoria diferente de produtos, incluindo ponches e licores produzidos a partir da cana branca e de frutos locais como oraça e pitanga. Variações, improvisos sobre o tema do djabì, a aguardente que flui do alambique como as lágrimas de quem deixou a Brava e sonha regressar às suas nuvens.
Parte do texto tirado do original no link : https://www.velier.it/en/capo-verde/7863-still-tears-that-make-cape-verde-smile.html?fbclid=IwY2xjawP54jJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKM3JWVVlMUVB4dTRsaE1pc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHie92ktr778JHfYNRtZNH5-jj05ue-tIZBco2OkrZ01s-9y6BRJcKroA9pmi_aem_H9sd4S5oF5juuYtLVN4aMg